A Restauração de Portugal integra-se no amplo processo de decadência do mais poderoso império do séc. XVII, enfrentando uma longa guerra até obter o pleno reconhecimento internacional, num percurso em que a política externa portuguesa foi marcada por grande pragmatismo, recorrendo a todos os meios disponíveis (propaganda, diplomacia, defesa militar) para atingir os seus objectivos: o pleno reconhecimento internacional da independência e o tratamento régio à Dinastia de Bragança.
The Restoration of Portugal is part of the broad decadence process of the most powerful empire of the XVIIth century, facing a long war until it obtained full international recognition, through a path in which the Portuguese foreign policy was marked by great pragmatism, resorting to all available means (propaganda, diplomacy, military defense) to achieve its goals: the full international recognition of the independence and the royal treatment to the Dinasty of Bragança.
A década que então se iniciava foi desastrosa para a Monarquia Hispânica que enfrentava uma crise sem precedentes, marcada por uma série de insurreições e revoltas. À rebelião da Catalunha e à aclamação da Dinastia de Bragança em Portugal, seguiu-se a descoberta de uma conspiração na Andaluzia, onde o Duque de Medina-Sidónia, cunhado de D. João IV, e o marquês de Aiamonte, encabeçaram um movimento independentista (1641), sendo duramente castigados; depois foi a vez de Nápoles (1647 e 1648), onde um movimento popular, inicialmente apoiado pela aristocracia, acabou esmagado pelas tropas espanholas sob o comando de Dom João José de Áustria, filho bastardo de Filipe IV; também na Sicília (1646-1652) eclodiu uma revolta popular semelhante; finalmente, no reino de Aragão (1648), foi descoberta uma manifestação de rebeldia semelhante ao da nobreza francesa durante as revoltas da Fronda (1648-53), dirigida pelo Duque consorte de Híjar, que pretendia instaurar uma monarquia autónoma.
A Monarquia Católica dos Habsburgo espanhóis era, então, uma grande potência global. Entre 1580 e 1640, incluía a coroa de Castela com todos os seus domínios (Granada, Navarra e os vice-reinados das Índias Ocidentais); a coroa de Aragão, também com todos os seus territórios (Sicília, Nápoles, Sardenha e o Estado dos Reais Presídios da Toscana, de grande importância estratégica e militar); as terras da Borgonha (Franco Condado e Países Baixos); o ducado de Milão; o marquesado de Finale na Ligúria; as Índias Orientais Espanholas (ilhas Filipinas, Marianas, Carolinas e partes das Molucas), ilhas e praças nas costas e no Norte de África (arquipélago das Canárias, Melila, Orão, Mazalquivir); e, finalmente, o reino de Portugal e o seu império ultramarino. O rei de Espanha tinha o total domínio da Península Ibérica e de vastas zonas do globo, do Atlântico Sul aos mares da Índia e da China, formando um “império no qual o sol nunca se põe".
Este conjunto muito diversificado de terras e regiões, cada qual com as suas próprias estruturas institucionais e o seu ordenamento jurídico, era governado através de vários Conselhos (regime polisinodial). O monarca actuava como rei, segundo a constituição política de cada Reino, Estado ou Senhorio. O seu poder formal variava conforme os territórios, mas agia de forma unitária sobre todos eles, ou seja, o todo procurava articular-se com o respeito pela autonomia de cada parte. Filipe II jurara, nas Cortes de Tomar (1581), respeitar as liberdades, privilégios, usos e costumes de Portugal, que não perdera a sua individualidade como reino, de acordo com a figura de uma monarquia dual. Porém, o império espanhol irá sofrer uma série de contrariedades e infortúnios que colocaram em causa este equilíbrio e garantias.
Entre 1622 e 1680, a contração das remessas de prata americana, meio de pagamento dos exércitos, coincidiu com o dispendioso envolvimento militar da Espanha numa violenta guerra, talvez uma das mais cruéis da história da Europa, que iria prolongar-se por cerca de Trinta Anos (1618-1648), num tempo que os próprios contemporâneos apelidaram de “século de ferro" pela constante presença da guerra. De facto, no século XVII, a Europa apenas conheceu dois anos de paz (1669 e 1970) e, mesmo assim, foi uma paz armada.
A guerra coincidiu com alterações climáticas que provocaram uma série de más colheitas, com o seu cortejo de fome e epidemias. O governo de Filipe IV (1621-1665) tentava resolver os problemas da falta de liquidez com um aumento das exigências fiscais, o que acabava por provocar motins populares, revoltas e rebeliões em diversos pontos do império, levando a um progressivo enfraquecimento que se refletia na demografia, na economia e na sociedade em geral. A decadência ou declinacíon de Espanha impressionava os contemporâneos e foi, talvez, o fenómeno mais espetacular de seiscentos.
A instabilidade na Europa e no cenário ultramarino – como atestam, por exemplo, as invasões e conquistas holandesas na Ásia, no Nordeste brasileiro e na costa ocidental africana, depois da fundação da Companhia das Índias Orientais, em 1602 (V.O.C.) e da Companhia das Índias Ocidentais, em 1621 (W.I.C) – levou a um ciclo de grandes dificuldades.
Numa tentativa para resolver a situação, Olivares, valido de Filipe IV (1622-1643), propunha uma alteração do modelo político da monarquia compósita dos Áustria espanhóis no sentido da uniformização das leis e instituições dos seus domínios, para que o rei conseguisse ter em todos eles o mesmo poder que gozava em Castela. Estas disposições teriam sido expostas um memorial secreto (25 de dezembro de 1624), cuja autenticidade tem sido posta em causa, embora não invalide o facto de ter havido diversas tentativas de pôr em prática algumas das medidas aí preconizadas, nomeadamente, uma progressiva homogeneização da monarquia e atração dos nobres com a oferta de lugares políticos, militares e administrativos a todos os vassalos do rei, quebrando o exclusivismo castelhano. Ao Duque de Bragança, visto com bons olhos na corte de Madrid, foram mesmo propostos cargos de enorme responsabilidade, como o vice-reinado de Milão, embora tenha sido recusado. No entanto, foi o próprio Olivares a assinar o contrato de casamento (1632), do 8.º duque de Bragança e futuro D. João IV com D. Luísa de Gusmão, filha do 8.º Duque de Medina Sidónia, uma casa com Grandeza de Espanha, à qual o valido também pertencia.
Desde a subida de Filipe IV ao trono, um pouco por toda a parte, tornaram-se frequentes os protestos e motins anti-castelhanos, nomeadamente em Portugal, onde se registaram tumultos em diversos pontos, de Norte a Sul do país, desde 1621, em Barcelos, por questões do pagamento de sisas, passando pelo célebre “motim das maçarocas", no Porto, contra o novo imposto sobre a fiação do linho e culminando na célebre revolta do “Manuelinho", em Évora (1637), que rapidamente alastrou ao Algarve, contagiou o Alentejo e chegou mesmo ao Porto e a Guimarães (1638).
Ao descontentamento popular somava-se o desagrado do clero com as políticas de inventariação e desamortização dos bens de raiz da Igreja portuguesa e a insatisfação de sectores da nobreza a quem não agradava a nomeação da Duquesa de Mântua como vice-rainha (1634) - vista como uma figura que servia mais os interesses do seu primo Filipe IV do que os de Portugal - e indignada com a atribuição de rendas e títulos que não cumpriam os acordos jurados em Tomar, pois os seus destinatários deviam ser de nacionalidade portuguesa, o que nem sempre acontecia. A extinção do Conselho de Portugal, substituído por duas Juntas, uma em Lisboa, presidida pelo secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e outra em Madrid, presidida por Diogo Soares, também foi uma medida fortemente contestada.
O caso português inscreve-se, pois, por um lado, no conjunto de perturbações políticas e sociais integradas no clima de crise generalizada que sofreu o império espanhol, mas, por outro, revestiu-se de características muito próprias: Portugal tinha já uma tradição de cinco séculos como reino independente e apresentava um pretendente de sangue real ao trono.
Embora o conceito de nação não tivesse a conotação identitária que temos hoje, a rápida e quase unânime recepção do movimento iniciado nos finais de 1640, afigura-se como a primeira grande síntese de um processo histórico que podemos remontar, pelo menos, à exortação que Fernão Lopes atribuiu a D. João I ainda “Regedor e Defensor do Reino" (1383-85), rogando “que todos de bom coração, como verdadeiros portugueses, tivessem voz por Portugal", concluindo que todos “deviam de ser duma vontade e desejo, e não andar entre eles desvairo nenhum, mas servir o Mestre lealmente e de bom coração como verdadeiros portugueses, pois que se punha a defender o reino para o livrar da sujeição del Rei de Castela" (Crónica de D. João I, Cap. XLVII). Em 1640, o sentimento nacional terá actuado como uma espécie de cimento que ajudou a compatibilizar interesses e pontos de vista divergentes.
A inscrição em epígrafe é o título de uma obra atribuída ao Doutor João Pinto Ribeiro, agente da casa de Bragança em Lisboa e um dos conjurados de 1640. A sua tese era a de que nenhum reino podia ter, contra sua vontade, um rei estrangeiro. O “direito das gentes" não podia ser violado pelo que o reino devia ser devolvido ao seu “senhor natural". Aliás, na época, divulgaram-se gravuras com a árvore genealógica dos reis de Portugal, desde o Conde D. Henrique a D. João IV, pretendendo demonstrar isso mesmo. Do mesmo modo, o novo monarca português passou a ser apresentado como o XVIII Rei da Lusitânia, eliminando da contagem os três reis da “dinastia filipina".

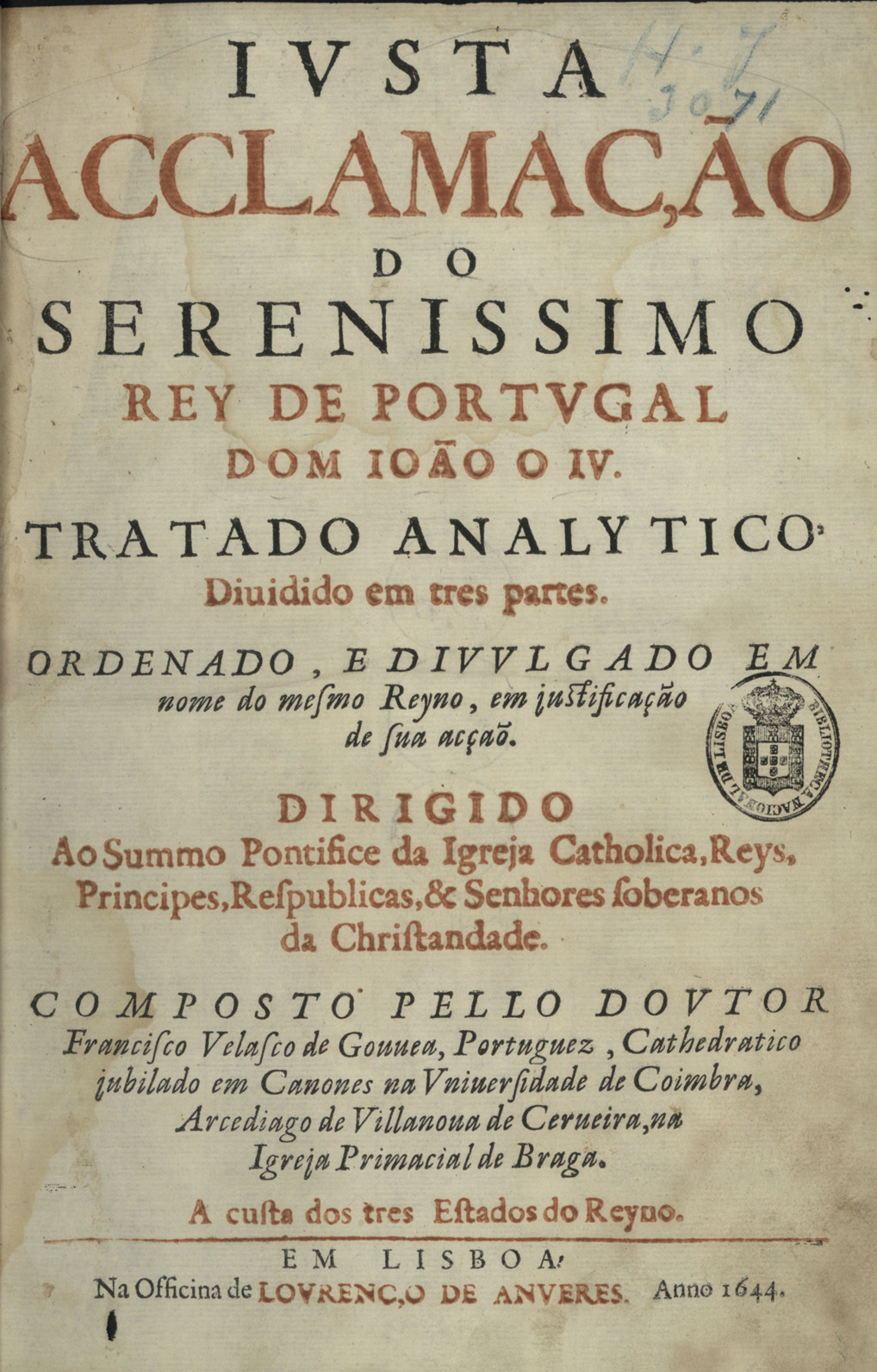
4 - Francisco Velasco de Gouveia (1580-1659). Justa acclamação do Serenissimo Rey de Portvgal Dom Ioão o IV, Lisboa, Officina de Lourenço de Anveres, 1644. Biblioteca Nacional Digital. Domínio público https://purl.pt/29398/1/index.html#/1/html.
O relato atribuído ao Pe. Nicolau da Maia de Azevedo, Relação de tudo o que passou na felice aclamação de El-Rei D. João IV (1641), apresenta a lista daqueles que se dirigiram ao paço, à primeira badalada das 9h. da manhã de sábado, 1.º de dezembro de 1640, constituindo a fonte mais direta aos acontecimentos que, a partir de 1638, levaram ao movimento restaurador. Terão sido mais de uma centena – versão adotada por D. António Caetano de Sousa na História Genealógica da Casa Real Portuguesa – número bem superior aos míticos cerca de 40 fidalgos confederados que o Conde da Ericeira (1632-1690) apresenta na sua História de Portugal Restaurado (1679).
Quarenta é um número simbólico, de sentido bíblico e cabalístico – 40 anos andara o povo eleito pelo deserto até encontrar a terra prometida, 40 dias e 40 noites durara o dilúvio, Moisés e Jesus Cristo jejuaram 40 dias no deserto – que unia diretamente 1640, o ano do acontecimento, ao cômputo dos participantes, associando-se às profecias do visionário Bandarra e ao milagre de Ourique. Tinha, pois, a marca de uma intervenção divina. Confirmava-se o destino profético da nação, comprovado pela visão de D. Afonso Henriques e reafirmado através da “gloriosa restauração de Portugal pela aclamação e restituição dos seus reinos" a D. João IV, como afirma D. Gregório de Almeida (pseudónimo do padre jesuíta João de Vasconcelos) em Restauração de Portugal Prodigiosa (1643), alimentando, assim, o sonho messiânico da vinda de el-rei D. Sebastião.
A mesma dimensão profética encontra-se em Justificação dos Portuguezes sobre a Acção de Libertarem seu Reino da Obediência de Castella (1643) de António Carvalho de Parada para quem “se el Rey Dom Affonso Henriquez foi levantado por Rey, por ordem Divina, do próprio modo o foy elRey Dom Joam, o Quarto, porque no mesmo decreto em que se tratou de lhe entregar o Reyno para o principiar se tratou de o entregar ao nosso Rey pera o restaurar".
O Pe. António Vieira será o máximo expoente desta corrente messiânica com as obras História do Futuro, Esperanças de Portugal e a inacabada Clavis Prophetarum, imaginando que o reino estaria destinado a construir o Quinto Império de Cristo na Terra, uma espécie de monarquia cristã universal que superintenderia um longo período de paz entre todos os povos, até ao fim dos tempos.
Uma Guerra de Tintas
De início, a nova dinastia enfrentou várias dificuldades, tanto em Portugal onde a Restauração não foi unanimemente aceite, como no estrangeiro, onde a diplomacia espanhola tudo fez para que os portugueses fossem considerados rebeldes separatistas, não recuando perante a intriga, a propaganda ou mesmo o uso da força e procurando, por todos os meios, o isolamento internacional dos insubmissos.
A crise do império espanhol era de tal maneira grave que a propaganda castelhana agia preventivamente, tal como mostra um tratado histórico-genealógico do monge cisterciense Juan Caramuel de Lobkowitz, escrito em latim e publicado em Antuérpia, no ano de 1639. O título não engana quanto às intenções do autor que procura demonstrar a legitimidade de Filipe II, filho do Imperador Carlos V, sobre Portugal e todos os seus domínios: Philippus Prudens Caroli V Imperatoris Filius, Lusitaniae Algarbiae, Indiae, Brasiliae legitimus rex demonstratus.
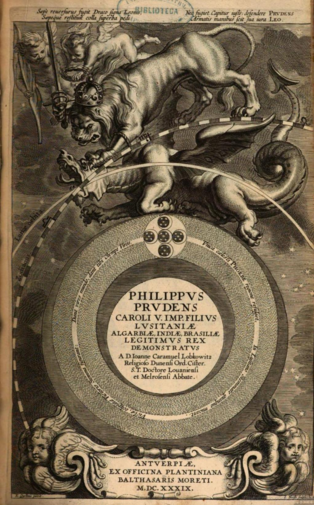

5 – Juan Caramuel Lobkowitz (1606-1682), Ordem de Cister. Philippus prudens Caroli V. Imp. Filius Lusitaniae Algarbiae, Indiae, Brasiliae legitimus rex demons... , Antuerpia, Officina Plantiniana, 1639. Biblioteca Nacional Digital, Domínio público. https://purl.pt/14358.
Tanto um lado como o outro recorreram a todos os meios possíveis, numa verdadeira guerra de tintas, com o objectivo de influenciar as emoções, as atitudes, as opiniões dos seus leitores, com fins ideológicos e políticos. A resposta portuguesa foi publicada em Londres, poucos anos depois, pelo Doutor António de Sousa de Macedo, que aí ficara como Residente, depois da primeira embaixada da Restauração. A sua réplica, também em latim, pretendia não deixar margem para dúvidas: Lusitania Liberata ab injusto Castellanorum dominio et restituta legitimo principi serenissimo Ioanni IV (1645).
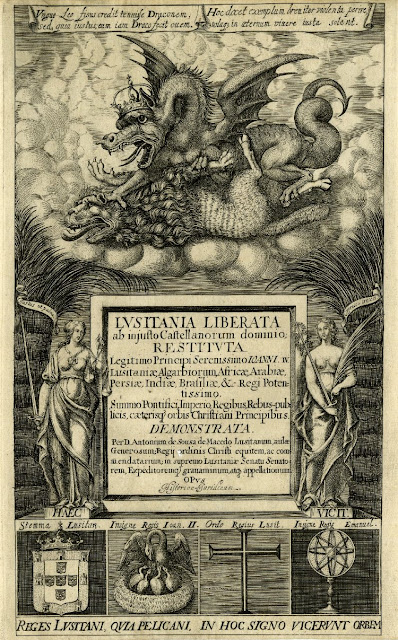

6 –António de Sousa de Macedo (1606-1682).Lusitania liberata ab injusto Castellanorum dominio: Restituta legitimo Principi, Serenissimo Joanni IV... / demonstrata per D. Antonium de Sousa de Macedo.... – Londres, Officina Richard Herne, 1645. Desenho de John Droeshout (1596-ca.1652).
Biblioteca Nacional Digital, Domínio público. http://purl.pt/25805.
Desde logo, a nova dinastia desenvolveu uma intensa ação de propaganda, facilitada pela generalização e grande desenvolvimento da imprensa, alegando a sua legitimidade e valendo-se dos seus diplomatas, muitos deles formados em Leis, para defender a sua causa nas cortes estrangeiras. Antes mesmo das operações militares no terreno, já os padres nos púlpitos e os embaixadores e ministros plenipotenciários nos salões combatiam pela pena e pela palavra, seja com vaticínios messiânicos, seja com fundamentos jurídicos ou alegações de direito.
A secessão de Portugal foi verdadeiramente traumática para Filipe IV que, enquanto foi vivo, nunca aceitou, sequer, conversações de paz. Mal a notícia chegou a Madrid, seis dias após os acontecimentos, o rei chegou mesmo a ameaçar com pena de morte quem falasse sobre o que acontecera em Lisboa. Olivares renegou em público a sua prima, nomeou agentes secretos com a tarefa de promover a contrarrevolução em Portugal, estabeleceu sansões económicas e avisou as potências europeias que qualquer acordo com os portugueses seria considerado uma afronta de pesadas consequências.
Para o rei espanhol, perder Portugal não significava apenas ficar com menos territórios, como aconteceria com eventuais derrotas na Catalunha ou em Itália: era perder um grande reino, vastos domínios e riquezas e a ilusão da unidade política e geográfica da Península Ibérica. Havia a sensação de que seria quase impossível a Espanha recuperar a sua grandeza. Tanto nas Instruções aos seus embaixadores, como através de ações de propaganda na divulgação dos seus direitos dinásticos, Filipe IV tudo fez para tentar impedir apoios à causa portuguesa e para divulgar as conspirações ou simples dissidências ocorridas na corte de Lisboa. Foi também intransigente na libertação de D. Duarte, irmão de D. João IV, preso e entregue aos espanhóis pelas forças imperiais. O malogrado infante acabou por morrer em cativeiro, no castelo de Milão (1649).
Durante o Congresso de Vestefália (1644-48), os plenipotenciários espanhóis receberam ordens para se manterem inflexíveis na recusa em reconhecer os ministros enviados por Portugal que se viram obrigados a integrar o séquito francês (em Münster, onde reuniam os plenipotenciários católicos) ou a comitiva sueca (em Osnabrük, onde estacionavam os ministros das potências protestantes). A mesma intransigência se repetirá nos Pirenéus, por ocasião da assinatura da paz franco-castelhana (1659).
Uma Diplomacia de Guerra
Com uma política externa de legitimação dos seus direitos ao trono e uma diplomacia completamente improvisada, D. João IV foi encontrar numa elite institucional, os juristas da Universidade de Coimbra, a fundamentação teórica para justificar a deposição da dinastia Habsburgo e o apoio técnico necessário para o funcionamento das embaixadas, em que o domínio do latim e a experiência na composição das leis era imprescindível para a negociação e redacção dos tratados. A defesa da causa portuguesa baseava-se nos princípios essenciais da Guerra Justa e do Pacto Social, na medida em que defendia a tese de que se visava repor um direito que tinha sido usurpado à Casa de Bragança, agravado pelo não cumprimento do pactum subjectionis devido ao comportamento tirânico dos reis espanhóis.
Os conjurados de 1640 souberam aproveitar a oportunidade criada pela conjuntura internacional, em plena Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) e ainda sem projectos de paz, mas a situação poderia alterar-se a qualquer momento. Este foi o último conflito impulsionado pela questão confessional. Ao longo da segunda metade de seiscentos, o aspecto religioso deixou de ser objecto de negociação, passando a ser considerado um assunto interno de cada Estado, o que favoreceu o lado puramente racional dos negócios públicos, criando uma cultura política nova que buscava, em si própria, os princípios de acção e autojustificação num tempo em que a paz não passava de uma afirmação teórica, já que não havia nenhuma instância capaz de a impor.
Aliás, a entrada da França na guerra, ao lado dos suecos, introduzira uma profunda mudança em termos de alinhamentos políticos. Pela primeira vez na História da Europa, o critério dos interesses sobrepunha-se ao factor religioso na aliança do Rex Christianissimus (Luís XIII) com os príncipes protestantes contra a Monarquia Católica de Filipe IV e o Sacro Império Romano-Germânico, ambos dominados pela dinastia Habsburgo (los Austrias, como eram conhecidos em Espanha).
A guerra afirmava-se como componente integrante da soberania, o braço armado da política externa, aliando-se à diplomacia ou “arte da negociação", como então se chamava. Por um lado, a negociação era essencial na construção da paz, por outro, o recurso a diversas manobras dilatórias permitiria dar mais tempo a um eventual avanço militar. O objectivo era ganhar terreno à mesa das negociações graças à conquista de mais território, um círculo vicioso só interrompido uma vez esgotados os recursos e os argumentos das partes envolvidas.
O caso da Restauração ajusta-se perfeitamente a estes conceitos. Note-se que D. João IV, mesmo antes de pensar na formação e abastecimento dos exércitos, face a uma guerra que era tida como inevitável, teve como preocupação primordial a nomeação de embaixadores às principais cortes europeias inimigas de Espanha. Esses homens contribuíram, tanto como os soldados, para a luta pela aclamação e reconhecimento da independência de Portugal. Alguns acumularam mesmo as funções militares com as diplomáticas, como D. João da Costa, um dos conjurados de 1640, 1.º Conde de Soure pelos seus serviços à Restauração, ou Henrique de Sousa Tavares, 3.º Conde de Miranda, que estava em Madrid, regressando logo que possível a Portugal (1643).
Numa época de guerra generalizada, as dificuldades foram imensas. Não só o risco das viagens, enfrentando bandos armados de salteadores nos caminhos, ataques de piratas ou de navios inimigos nas jornadas marítimas, mas também arrostando intrigas e maquinações nas cortes estrangeiras, não esquecendo o problema que era o constante atraso das mesadas e ajudas de custo, com as inevitáveis dívidas e impaciência dos credores que, por vezes, chegaram mesmo a vias de facto como foi o caso do Doutor Francisco de Andrade Leitão, que teve sua casa pilhada e incendiada em A Haia (1642).
As primeiras embaixadas organizaram-se com invulgar rapidez. Ainda o Duque de Bragança não tinha chegado a Lisboa e já se apontavam nomes para as missões mais importantes, de acordo com critérios de confiança política para as primeiras figuras e de preparação técnica para as segundas. Logo que possível, improvisaram-se seis missões diplomáticas que partiram rumo à Catalunha (janeiro), França, Inglaterra e Holanda (fevereiro), Suécia e Dinamarca (março), Santa Sé (abril), cujo resultado esteve mais dependente da oportunidade das alianças ou dos interesses dos príncipes do que da alegada justiça da causa portuguesa ou da habilidade dos seus defensores, que negociaram com maior ou menor sucesso, conforme as circunstâncias.
As missões aos inimigos de Espanha – França, Inglaterra, Holanda e Suécia – atingiram, pelo menos em parte, os objectivos inicialmente traçados, permitindo construir uma rede de acção concertada e activa, com representações diplomáticas permanentes nos países mencionados, verdadeira escola prática de diplomacia e de realismo político. Os diplomatas da Restauração foram pragmáticos. A troco da liberdade de navegação e comércio e do livre exercício da religião protestante, conseguiram importantes apoios para a causa da Restauração. Porém, com pesadas contrapartidas económicas.
Com os holandeses, a situação foi deveras peculiar. Desde 1568 que as Províncias Unidas travavam contra Espanha uma persistente luta pela sua independência. Consequentemente, os domínios ultramarinos portugueses passaram a entrar na equação, sobretudo desde a fundação das poderosas companhias de comércio. Esse estado de guerra levou à rápida assinatura de uma Provisão Regia pela qual D. João IV concedia liberdade de comércio aos neerlandeses (21 de janeiro de 1641), ainda antes da partida do embaixador Tristão de Mendonça Furtado, um dos conjurados de 1640.
Após duras negociações, em A Haia, foi finalmente acordado um “Tratado de Tréguas e cessação de hostilidades" (12 junho de 1641) o que significava que os holandeses se comprometiam a manter a paz com Portugal, mas só na Europa pois o estado de guerra continuaria no ultramar. Nem mesmo a promessa de liberdade de comércio nas costas da ilha de São Tomé – ouro, negros ou outras mercadorias – impediu a conquista de Luanda (25 de agosto de 1641), principal fonte de escravos para a colónia americana da WIC (Pernambuco).
Estas conversações relacionam-se com as que tiveram lugar em Paris, onde os embaixadores portugueses – o Monteiro-mor D. Francisco de Melo e o Desembargador António Coelho de Carvalho – ajustaram com Richelieu um “Tratado de Confederação e Aliança" (1 de junho de 1641). Em síntese, ficou combinado fazer guerra ao rei de Castela, possibilitando a entrada dos holandeses nessa confederação, quando parecesse conveniente. O objectivo era constituírem uma armada com a participação de 20 navios de cada uma das partes para atacar os portos e embarcações espanholas, sendo divididos os interesses. O comércio entre os dois reinos seria restabelecido, tal como no tempo dos antigos reis de Portugal, e os portugueses poderiam comprar livremente, em França, toda a espécie de munições de guerra que lhes fossem necessárias.
No entanto, em artigo secreto ficou estabelecido não fazer qualquer tratado com os inimigos comuns sem o consentimento da França, concertado com o das Províncias Unidas. Para tentar remediar este inconveniente, foi enviada nova embaixada a Paris, chefiada pelo próprio Conde Almirante (D. Vasco Luís da Gama, Conde da Vidigueira e 1.º Marquês de Nisa) que também não conseguiu êxito completo quanto à assinatura de uma liga formal, uma espécie de acordo de assistência mútua que os portugueses desejavam assegurar.
Quanto aos países escandinavos, a diplomacia espanhola intrigou na corte dinamarquesa, cujo rei mantinha negociações oficiosas com o Imperador e com Filipe IV pelo que o embaixador Francisco de Sousa Coutinho aí seria recebido apenas em privado. Dirigiu-se, depois, à Suécia, onde foi acolhido com as maiores honras pela rainha Cristina, na altura apenas com 15 anos de idade, assistida por um conselho de regência. As negociações realizaram-se por mediação francesa, sendo concluído um tratado (29 de julho de 1641) que estabelecia mútua liberdade de religião e comércio em todos os portos de cada um dos reinos.
A missão em Inglaterra, confiada a D. Antão de Almada e ao Desembargador Francisco de Andrade Leitão, enfrentou algumas dificuldades, em grande parte devidas às maquinações do embaixador espanhol que tudo fez para que Carlos I não lhes concedesse audiência pública. Contudo, graças à pressão da rainha, irmã de Luís XIII de França, e também do Parlamento, dado o interesse económico que representava reatar relações comerciais com o reino de Portugal, Carlos I acabou por receber os embaixadores.
Os ingleses estavam à beira de uma guerra civil, mas nem por isso perdiam o sentido dos negócios. A notícia do acordo ajustado entre Tristão de Mendonça Furtado e os Estados Gerais levou os britânicos a exigirem também iguais vantagens, nomeadamente sobre a compra e fretamento de navios, liberdade de comércio e liberdade de religião. Finalmente, foi assinado um tratado de paz e comércio (29 de janeiro de 1642), sendo permitido aos portugueses a compra de munições em Inglaterra e aos ingleses o serviço militar em Portugal.
O relativo sucesso destas missões permitiu construir uma rede de acção que visava a participação no Congresso de Vestefália, embora Portugal tivesse sido oficialmente excluído por exigência de Espanha, com o apoio da Santa Sé, onde os esforços da diplomacia portuguesa sistematicamente fracassavam graças à pressão da diplomacia de Filipe IV junto de Urbano VIII (1623-1644). Os seus sucessores – Inocêncio X (1644-1655) e Alexandre VII (1655-1667) – seguiram a mesma orientação. Só depois da morte do monarca espanhol foi possível obter o reconhecimento do Sumo Pontífice.
Da Guerra à Paz
A guerra luso-holandesa prosseguiu na capitania de Pernambuco, desde 1630 dominada pelos homens da WIC, mas depois da substituição de Maurício de Nassau (1644), a política fiscal da Companhia levou a uma insurreição que culminou nas vitoriosas batalhas dos Guararapes (1648 e 1649), levando à capitulação neerlandesa (1654). A ilha de São Luís do Maranhão fora, igualmente, ocupada (1641-1644) já depois de assinadas as tréguas, que também não impediram a invasão de Angola, onde a Companhia se manteve durante sete anos até à reconquista de Luanda por Salvador Correia de Sá e Benevides (16 de agosto de 1648).
A paz definitiva com Portugal será negociada pelo já referido D. Henrique de Sousa Tavares, 3.º Conde de Miranda, sendo assinada só em 1661, contra a exigência do pagamento de uma avultada dívida de guerra: 4 milhões de cruzados, prometidos no mesmo ano em que ascendia da 2 milhões o dote de D. Catarina de Bragança. Nem a Coroa portuguesa tinha dinheiro para pagar, nem os holandeses estavam dispostos a devolver Cochim e Cananor, que tinham conquistado já depois de firmado o acordo de paz, circunstância que justificou a renegociação do tratado.
Pelo novo acordo, obtido por D. Francisco de Melo Manoel (30 de julho de 1669), a dívida portuguesa seria paga em direitos do sal a 20 anos, no montante de 150 mil cruzados por ano, o que salvava Portugal da ruína financeira. No entanto, as praças não foram devolvidas. No final da Guerra da Restauração, o Estado português da Índia estava reduzido a Diu, Damão, Baçaim, Salsete, Chaul, Goa, Mangalore, e São Tomé de Meliapore. A Ilha de Ceilão fora perdida em 1658. Na Insulíndia, Malaca tinha sido conquistada pelos homens da VOC, em 1641. Restavam as ilhas de Flores, Solor e Timor. No sul da China, Macau manteve-se leal à Coroa portuguesa.
Entretanto, na Europa, a guerra continuava entre as potências católicas, mas depois de uma tremenda derrota na Flandres - onde o Marechal de Turenne, apoiado por uma frota e seis mil soldados ingleses, venceu as forças espanholas na Batalha das Dunas (14 de junho de 1658) – Filipe IV declarou-se pronto a negociar a paz.
Portugal tinha alcançado a importante vitória das Linhas de Elvas (14 de janeiro de 1658), mas ganhar uma batalha não significa vencer a guerra. Seria necessário um acordo diplomático, mas o monarca espanhol recusava, sistemática e categoricamente, incluir a questão portuguesa nas negociações de paz que iriam ocorrer nos Pirenéus. Filipe IV não só rejeitava discutir o caso português sob pena de impedir as negociações, como obrigou Mazarino a aceitar um total corte de relações diplomáticas com Portugal (Art. 73 do Tratado dos Pirenéus, 7 de novembro de 1659). Só com essa garantia autorizou o casamento de Luís XIV com a sua filha Maria Teresa de Áustria.
Embora a missão diplomática portuguesa, confiada ao também já referido Conde de Soure, tenha fracassado, foi o apoio secreto do governo de Luís XIV, através do Marechal de Turenne e do Duque de Guise, que possibilitou o início das negociações para o casamento de D. Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra, recentemente restaurado no trono (29 de maio de 1660). Também foi possível a contratação de reforços militares chefiados pelo Marechal von Schomberg, que consigo trouxe vários oficiais e um bom número de veteranos, que a paz franco-castelhana tinha deixado desocupados.
A partir desta época, o conflito com Portugal torna-se manifestamente impopular em Espanha, a ponto do Conselho de Aragão se negar a contribuir para a invasão do Reino vizinho, alegando o enorme esforço realizado com a guerra da Catalunha. Também as Cortes de Navarra oferecerem grande resistência em conceder os financiamentos reclamados. A pressão externa para a abertura de negociações de paz tornou-se mais forte, sobretudo por parte do governo inglês já que o tratado de casamento de D. Catarina de Bragança obrigava o rei da Grã-Bretanha a socorrer Portugal em caso de invasão (Arts. XV a XVIII).


7 - Gravura comemorativa do casamento de Carlos II com Catarina de Bragança (1662), por Hugo Allard, the Elder Dutch. À esquerda, vêem-se Carlos I (decapitado em 1649) e sua mulher Henriqueta Maria de França. À direita encontram-se os reis de Portugal, D. João IV (falecido em 1656) e D. Luísa de Gusmão. Royal Collection Trust. Domínio público. https://www.rct.uk/collection/602675/marriage-of-charles-ii-and-catherine-of-braganza.
Realizaram-se alguns encontros secretos (nos Pirenéus, em 1660 e no Minho, em 1662), mas não havia unanimidade na Corte de Lisboa, sob a regência de D. Luísa de Gusmão, dilacerada entre duas facções partidárias. Em 1662, um golpe de Estado e um contragolpe vitorioso elevou ao poder o jovem Conde de Castelo-Melhor, nomeado Escrivão da Puridade por D. Afonso VI, com plenos poderes sobre toda a governação.
A situação de Portugal era extremamente difícil. Se é certo que o casamento de D. Catarina, apoiado secretamente pela França, evitava o isolamento do reino no plano internacional, e que a chegada dos socorros militares fortalecia a capacidade de resistência à invasão estrangeira, nem por isso o monarca português deixava de estar de relações cortadas com as maiores potências católicas e com a Santa Sé. O fim da guerra era imprevisível, sobretudo quando a Espanha, em paz com a França, dirigia os seus exércitos contra o reino que Filipe IV chamava “rebelde".
As vitórias de Ameixial (1663), Castelo Rodrigo (1664) e Montes Claros (17 de junho de 1665) tornaram mais forte a posição portuguesa, mas o fator decisivo foi a morte de Filipe IV (17 de setembro), três meses depois desta última vitória. Deixou a Espanha em profunda recessão e crise, com um rei menor de idade e muito débil de saúde, a autoridade real entregue à regência de Maria Ana de Áustria, fortemente contestada por nobres, povos e reinos. Foi uma época considerada, geralmente, como uma das mais tristes, senão a mais triste da História de Espanha.
A circunstância da morte do soberano espanhol, abria caminho para as tão desejadas negociações de paz. Os ingleses estavam manifestamente interessados na mediação entre Portugal e Castela, acabando por assinar com o governo de Madrid um tratado de aliança mútua (17 de dezembro de 1665), com vários artigos secretos relativamente a Portugal pelos quais os espanhóis se comprometiam a aceitar, pelo menos, uma trégua de 30 anos.
Nesta conjuntura, o governo de Maria Ana de Áustria resolveu dar os primeiros passos a descoberto com vista à paz, por intermédio de Inglaterra, o que era fortemente lesivo para os interesses de Luís XIV, que usava Portugal como arma para exercer pressão sobre os espanhóis. Desejava o alargamento das suas fronteiras à custa da Flandres espanhola – o que levaria a um novo conflito, a Guerra da Devolução (1667-68).
O governo do Conde de Castelo Melhor queria evitar a dependência exclusiva de uma potência (a Inglaterra) ao procurar o equilíbrio com o apoio de outra (a França). Prosseguiu, pois, a luta diplomática, acabando por conseguir o casamento do rei com D. Maria Francisca Isabel de Saboia, bisneta por bastardia de Henrique IV de França.
Foram negociações longas e difíceis, levadas a cabo sigilosamente devido ao corte de relações diplomáticas imposto aos dois reinos, alcançando um resultado positivo para Portugal graças à experiência e talento de Francisco de Melo e Torres, que já tinha negociado o casamento de D. Catarina de Bragança. Ligado a duas das dinastias mais importantes da Europa, Portugal obteria uma posição mais favorável e segura no xadrez internacional.
A nova rainha entrou em Lisboa, em agosto de 1666, sendo recebida com aparatosos festejos nas ruas, mas a Corte estava dividida. Os partidários da aliança francesa preferiam o prolongamento do estado de guerra para poder vir a negociar em condições mais vantajosas. Os defensores das propostas inglesas, maioritariamente em torno do infante D. Pedro, eram favoráveis à deposição do rei e ao afastamento do seu valido, preferindo uma paz imediata.
O Conde de Castelo Melhor rejeitou a proposta da trégua de 30 anos, com o argumento do risco em se retardar uma paz que se desejava o mais breve possível e acabou por assinar um tratado de aliança com a França (31 de março de 1667). O Artigo VII desse acordo proibia a ambas as partes contraentes a assinatura de qualquer paz ou tréguas com o inimigo comum, por um período de 10 anos, sem um expresso e mútuo consentimento, ou seja, só em conjunto poderiam negociar com Espanha.
Na corte de Lisboa, a crispação era mais que evidente, dando aso às maiores desconfianças mútuas. A pressão no sentido de o rei dispensar os serviços do Conde de Castelo Melhor, que acabou por pedir a demissão, e o afastamento do secretário de Estado, o já referido Dr. António de Sousa de Macedo, foram os primeiros passos para a conquista do poder por parte de D. Pedro a que se somaram os problemas domésticos entre o casal real, com D. Maria Francisca a exigir a declaração de nulidade do casamento e a devolução do dote, entretanto integralmente gasto com as despesas da guerra. D. Afonso VI foi forçado a abdicar (23 de novembro de 1667). O Infante assumiu a regência enquanto corriam boatos de que estava para chegar um embaixador britânico com um tratado “de rei a rei".
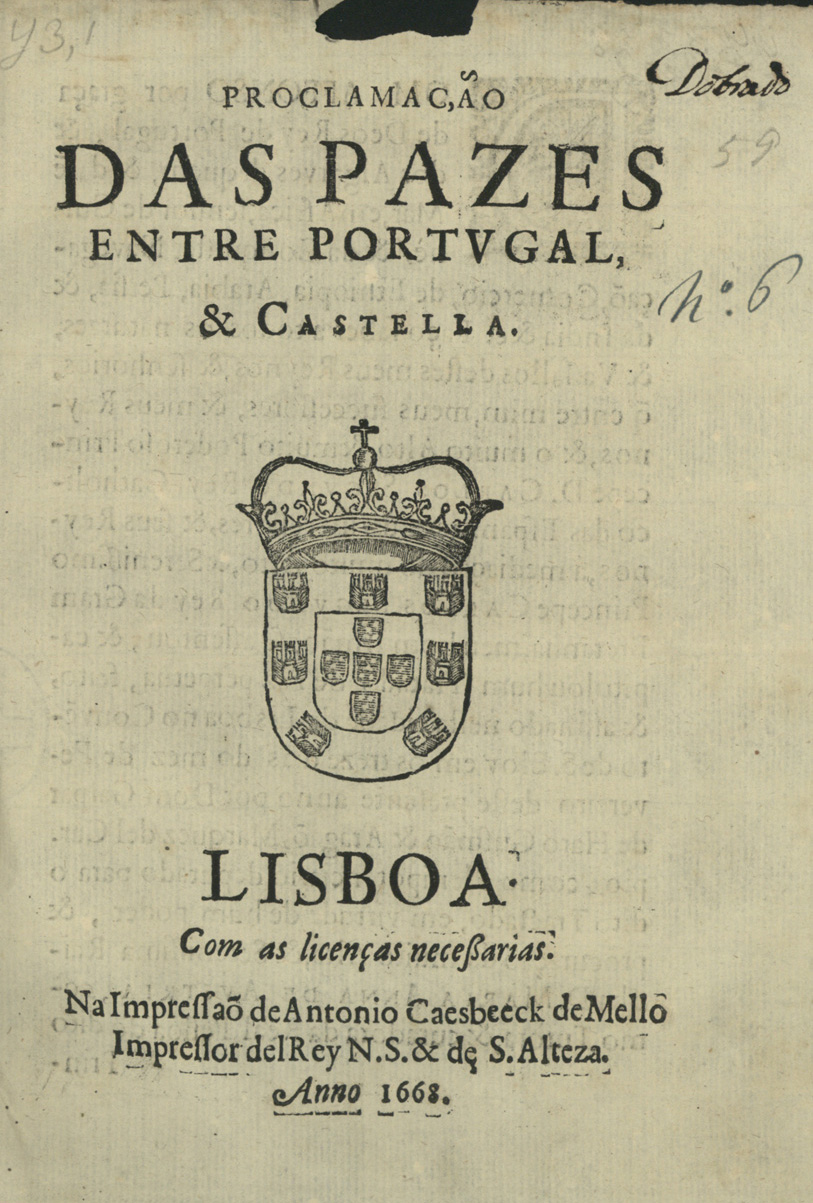

8 - Proclamação das pazes entre Portugal, & Castella. – Lisboa, na impressão de Antonio Caesbeeck [sic] de Mello Impressor delRey N.S. & de S. Alteza, 1668. Biblioteca Nacional Digital. Domínio público.
Essa foi a missão de Lord Edward Montagu, 1.º Conde de Sandwich, que já tinha sido Embaixador Extraordinário em Lisboa por ocasião do casamento de D. Catarina de Bragança. Trazia um projecto de acordo, em 13 artigos, que foi a base do tratado de paz assinado, a 13 de fevereiro de 1668, no convento de Santo Elói, em Lisboa. Em Espanha, o ajuste foi considerado desastroso, chovendo as acusações ao governo da regente que, em troca de Ceuta, reconhecera a independência de Portugal e dos seus bens e territórios ultramarinos.
Faltava o restabelecimento das relações com a Santa Sé, finalmente alcançado por D. Francisco de Sousa, 3.º Conde do Prado e 1.º Marquês das Minas, que conseguiu ser recebido pelo papa Clemente X com as honras devidas a um embaixador de rei, o que significava o reconhecimento cabal da Dinastia de Bragança (Bula de 22 de dezembro de 1670).
Em conclusão
1640 foi, certamente, a mais grave crise enfrentada pelos Habsburgo espanhóis, com as revoltas da Catalunha e de Portugal. O Principado foi recuperado em 1652, apesar de terem perdido o domínio sobre a região do Rossilhão, mas nunca mais reintegraram o reino de Portugal. A Monarquia Hispânica deixou de o ser.
Bibliografia
BÉLY, Lucien, BÉRENGER, Jean e CORVISIER, André – Guerre et Paix dans l'Europe du XVIIe siècle. Paris: SEDES, 2 Vols., 1991.
BOUZA ÁLVAREZ – Fernando, Portugal no Tempo dos Filipes. Política, Cultura, Representações (1580-1668). Lisboa: Ed. Cosmos, 2000.
COSTA, Mª Leonor Freire, CUNHA, Mafalda Soares da – João IV, o restaurador. Círculo de Leitores, 2006.
FARIA, Ana Leal de – Diplomacia Portuguesa. A organização da actividade diplomática da Restauração ao Liberalismo. Os Arquitectos da Paz. Lisboa, Tribuna da História, 2ª Edição revista e aumentada, 2023.
________________ – Duarte Ribeiro de Macedo. Um Diplomata Moderno (1618-1680). Lisboa: MNE-IDI, 2005.
KAMEN, Henry – El siglo de hierro. Alianza Universidad, 1977.
LOURENÇO, Maria Paula Marçal – D. Pedro II, o pacífico. Círculo de Leitores, 2006.
LOUSADA, Abílio Pires – A Restauração Portuguesa de 1640. Diplomacia e Guerra na Europa do Século XVII. Lisboa: Fronteira do Caos, 2011.
MACEDO, Jorge Borges de – História Diplomática Portuguesa. Constantes e Linhas de Força. Lisboa: Tribuna da História, 2ª Ed., 2006.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo – “A Guerra da Aclamação". In Nova História Militar de Portugal. Direcção de Manuel Themudo Barata e Nuno Severiano Teixeira, Círculo de Leitores, Vol. 2, 2004.
PRESTAGE, Edgar – As relações diplomáticas de Portugal com a França, Inglaterra e Holanda de 1640 a 1668. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1928.
SANTO, Gabriel Espírito – A Grande Estratégia de Portugal na Restauração. 1640-1668. Lisboa: Caleidoscópio, 2009.
SCHAUB, Jean-Frédéric – Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640). Lisboa: Livros Horizonte, 2001.
TORGAL, Luís Reis – Ideologia Política e Teoria do Estado na Restauração. Coimbra: , Biblioteca Geral da Universidade, 2 Vols., 1981.
VALLADARES, Rafael – La Rebelión de Portugal (1640-1680). Guerra, conflicto y poderes en la monarquía hispânica. Valladolid: Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1998 [trad. de Pedro Cardim, A Independência de Portugal. Guerra e Restauração. 1640-1668, Lisboa, Esfera dos Livros, 2006].
WALLERSTEIN, Immanuel – O Sistema Mundial Moderno. O mercantilismo e a consolidação da economia-mundo europeia, 1600-1750. Lisboa: Ed. Afrontamento, Vol. II, 1994.
XAVIER, Ângela Barreto, CARDIM, Pedro – D. Afonso VI, o vitorioso. Círculo de Leitores, 2006.
Ana Leal de Faria
Professora jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorada em História Moderna pela mesma Universidade. É Académica de número da Academia Portuguesa da História, investigadora integrada do Centro de História da UL, membro da Sociedade Científica da UCP e do Centro de Investigação JVS, Presidente do Conselho Supremo da SHIP e conselheira do CNE. Tem numerosas obras publicadas sendo galardoada com o prémio Aristides de Sousa Mendes e o prémio Calouste Gulbenkian de História Moderna e Contemporânea de Portugal.
 Descarregar este texto
Descarregar este texto
Como citar este texto:
FARIA, Ana Leal de - Guerra e Diplomacia na Restauração de Portugal. Revista Portuguesa de História Militar – Dossier: Restauração Portuguesa (1640-1668). [Em linha] Ano V, nº 8 (2025); https://doi.org/10.56092/IFDQ9775 [Consultado em ...].